foto:Vilma Slomp/divulgação
Trilogia iniciada em 2019, o segundo volume de Escravidão, do jornalista e pesquisador Laurentino Gomes, foi recentemente lançado e segue contando a vergonhosa saga do comércio da gente negra que envolveu europeus, americanos (do sul, do norte e do centro) e africanos por quase quatro séculos.
Seguindo uma lógica de início, meio e fim, o segundo volume trata justamente do auge dessa atividade, que se deu no século 18. Entre os séculos 16 e 19, mais de 12 milhões de africanos foram trazidos acorrentados e em condições monstruosas às Américas. Desse montante, 40% foi trazido para apenas um país: o Brasil, a maior sociedade escravista do mundo e o último país a abolir a escravidão.
Só isso já nos diz demais sobre o que fomos e - mais uma vez, vergonhosamente - ainda somos. Mas ainda encontramos muito mais no segundo volume desta preciosa trilogia. Nesta entrevista, Laurentino Gomes nos brinda com um pouco do incrível montante de informação e conhecimento que se pode encontrar neste segundo volume.
Uma das coisas mais impressionantes neste segundo volume é a forma como o senhor posiciona os escravizados no centro da narrativa, como agentes ativos de sua história, seja através dos compadrios, seja através de fugas e levantes. É uma decisão consciente ou foi naturalmente resultado de suas pesquisas e leituras?
Cheguei a essa conclusão ao final de muitas leituras e pesquisas sobre o tema. Um dos mitos mais arraigados a respeito do escravismo brasileiro, que Gilberto Freyre ajudou a forjar em Casa Grande & Senzala, é a falsa ideia de uma escravidão patriarcal, na qual o negro aparece como alguém passivo e apático, bem adaptado ao mundo dos brancos e vivendo sob as ordens da casa senhorial, incapaz de reagir, protestar ou se rebelar. A tão falada democracia racial seria resultado desse sistema peculiar do escravismo brasileiro. Essa visão, felizmente, está superada. Novos estudos apontam os escravos como agentes de seu próprio destino, negociando espaços dentro da sociedade escravista, organizando irmandades religiosas, formando um sistema complexo de apadrinhamento, parentesco e alianças que muitas vezes incluíam participar de milícias ou bandos armados para defender os interesses do senhor contra os de um vizinho ou fazendeiro rival. Pequenas faltas, fugas rápidas, corpo mole no trabalho, malfeito ou inacabado, fingir não dominar a língua ou as ordens, eram todas formas de resistência que não necessariamente incluíam o enfrentamento direto, como observou a historiadora Maria Helena Pereira Toledo Machado. Os escravos lutavam por coisas concretas, como o direito de constituir e manter famílias, cultivar suas próprias hortas e pomares e vender seus produtos nas feiras livres, dançar ao som do batuque nas horas de folga e praticar seus cultos religiosos. O que nem sempre implicava em fugir, se rebelar ou pegar em armas. Ainda assim, eram atos de resistência.
O livro fecha o foco no século 18, auge do tráfico de escravizados no Atlântico. É possível dizer que foi o século que sacramentou o caráter e o destino do mundo em que vivemos hoje. Como o senhor diria que os negros escravizados que aqui chegaram naquele século ajudaram a moldar o Brasil de hoje?
O século XVIII representa o auge da escravidão e do comércio de seres humanos no continente americano, em particular no Brasil. Num intervalo de apenas 100 anos, cerca de seis milhões de homens e mulheres ficaram arrancados de suas raízes africanas, marcados a ferro quente e transportados para o Novo Mundo, acorrentados no porão dos navios negreiros. O Brasil sozinho recebeu dois milhões. Por volta de 1750, negros escravizados eram vistos numa sucessão ininterrupta de colônias europeias que se desdobravam do Canadá até o sul da Argentina e do Chile atuais. A desproporção entre brancos e negros era enorme. Na região do Caribe, ocupada por franceses, ingleses, holandeses, espanhóis e dinamarqueses, os negros constituíam mais de 90% da população. Minas Gerais tinha a maior concentração de pessoas negras de todo o continente americano. Mas esse é também o período mais importante da construção das muitas Áfricas que hoje existem no coração do Brasil. Como explico na abertura de um dos capítulos desse volume da trilogia, os traços estão por toda parte, na dança, na música, no vocabulário e na culinária, nas crenças e costumes; na luta do dia a dia, na força, no semblante e no sorriso das pessoas. Estão também na paisagem e na arquitetura, cifradas na forma de símbolos e desenhos gravados nas paredes e fachadas das casas e casarões, nos altares e pinturas das igrejas, nos terreiros de umbanda e candomblé. Começaram ou se consolidaram no século XVIII alguns fenômenos que marcariam profundamente a face do escravismo brasileiro. A escravidão urbana, de serviços, diferente daquela observada nas antigas lavouras de cana-de-açúcar na região Nordeste, deu maior mobilidade aos cativos, acelerou os processos de alforria, ofereceu oportunidades às mulheres e gerou uma nova cultura em que hábitos de origem africana se misturaram a outros, de raiz europeia ou indígena. Isso incluiu a disseminação de festas, danças, rituais, irmandades e práticas religiosas que ainda hoje estão presentes no Brasil.
Se nos séculos anteriores a escravidão, basicamente, era agrária e rural, no século 18 ela se transforma, tornando-se mais urbana e também voltada ao garimpo de ouro e pedras preciosas no interior do Brasil, a partir de Minas Gerais e do centro-oeste. Um detalhe precioso que seu livro nos chama a atenção é o fato de que os escravizados que eram enviados para trabalhar nessas minas traziam saberes e tecnologias próprias desenvolvidas há milênios na África. Coisa semelhante aconteceu com muitos escravizados especializados em agricultura e pecuária. Por que não aprendemos detalhes como este nas aulas de história do ensino médio?
Infelizmente, há um projeto nacional de esquecimento, que procura esconder o protagonismo africano na história do Brasil, e que se reflete na ausência de um grande museu nacional da escravidão e da cultura afro-brasileira e também, até recentemente, na falta de ênfase sobre o assunto nos livros didáticos. Eu me surpreendi muito ao constatar o quanto as contribuições africanas foram cruciais para a construção do Brasil. Elas podem ser exemplificadas pela história de um homem anônimo, negro ou mestiço, descendente de africanos escravizados, que teria sido o responsável pela descoberta de ouro em Minas Gerais no final do século XVII. Infelizmente, sabe-se muito pouco a seu respeito. O único registro que dele sobrou está numa passagem do livro Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, do padre jesuíta André João Antonil. Até recentemente, uma historiografia ufanista atribuía quase que exclusivamente aos bandeirantes, todos homens supostamente brancos, a façanha pela descoberta de ouro e diamantes e a consequente ocupação do território brasileiro na primeira metade do século XVIII. Isso é parcialmente verdadeiro. Embora relegados ao segundo plano nos museus, livros e salas de aula, negros e mestiços foram, muitas vezes, protagonistas, em vez de atores secundários, nos grandes acontecimentos da história do Brasil. O tráfico negreiro era menos aleatório e irracional do que se imagina. Ao contrário do que, por muito tempo, sustentou a versão preconceituosa e excludente do colonizador, os africanos escravizados que chegavam à América não eram uma massa informe de mão-de-obra cativa ignorante, selvagem, bárbara, despreparada para os desafios impostos pelas diferentes atividades econômicas desenvolvidas pelos europeus no Novo Mundo. Novos estudos têm demonstrado o oposto disso. Os africanos escravizados não eram apenas commodities, mercadorias como outras quaisquer, cujo valor e preço dependessem somente do vigor físico ou da força dos músculos definidos pelo sexo, pela idade e pelas condições de saúde. Além de seres humanos acorrentados e marcados a ferro quente, os navios negreiros transportavam em seus porões conhecimentos e habilidades tecnológicas da África que seriam cruciais na ocupação europeia do continente americano. Uma dessas tecnologias era justamente a mineração de ouro e diamantes em Minas Gerais.
Sua descrição das batalhas entre diversos reinos africanos, que guerreavam entre si e vendiam os derrotados aos escravistas europeus é muito fascinante, amadurece uma visão de uma África brutal, mas também muito majestosa e rica, cheia de história. Isso vem de encontro ao conceito de certos mal-intencionados que vivem de argumentar que os próprios negros vendiam escravos aos europeus, como se isso fosse "novidade" ou eximisse os europeus da culpa de estimular e sustentar o maior comércio de escravos da história por mais de três séculos. O que o senhor diria sobre isso?
A África é e sempre foi um continente muito diverso, de grande riqueza cultural, composto por milhares de línguas, tradições, povos e etnias que, muitas vezes, eram rivais entre si. Os europeus exploravam essas diferenças e rivalidades em benefício do tráfico negreiro. No século XVIII, o cultivo de grandes lavouras e a busca por novas riquezas no Brasil e no restante da América produziu uma inflação nos preços dos africanos escravizados. A procura por mão-de-obra cativa disparou. Nada menos do que 85% das 35 mil viagens de navios negreiros para a América, documentadas pelo banco de dados slavegoyages.org, aconteceram depois de 1700. Na África, o impacto do tráfico negreiro foi enorme. A demanda cada vez maior por cativos e os preços crescentes pagos por eles desorganizou a economia do continente. Antigas atividades produtivas, como tecelagem, metalurgia, agricultura e pecuária, foram deixadas de lado sob a pressão do comércio escravista. Em lugar delas, instaurou-se um aumento crescente nas taxas de violência. Aliada aos traficantes, uma nova elite militar africana surgiu à frente de estados predatórios que, apoiados com armas e recursos europeus, nasceram e se firmaram com o propósito de lucrar com a guerra contra seus vizinhos, vendidos como prisioneiros para capitães de navios negreiros. Alguns exemplos são os reinos de Futa Jalom, na Alta Guiné, entre os atuais países de Senegal e Guiné Bissau; Axante, no interior de Gana; Daomé e Oió, entre a atual República do Benim e a Nigéria; Cassanje e Lunda, em Angola. Todos eles alimentaram a engrenagem do tráfico, fornecendo escravos em troca de canhões, espingardas, chumbo, pólvora, tecidos, bebidas alcóolicas — em especial a cachaça brasileira — rolos de fumo da Bahia, barras de cobre e ferro, contas de vidro, ornamentos, conchas marinhas do oceano Índico, entre outras mercadorias. Todos esses são fatos históricos bem conhecidos, o que não significa que hoje se deva culpar os africanos negros pela própria escravidão. Esse argumento, muito usado pelo então candidato Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, serve apenas de escapismo ou de autoengano, de projetos de poder que procuram fugir das responsabilidades ligadas à herança perversa da escravidão entre nós e perpetuar as estruturas de dominação vigentes até hoje.
A história do Haiti, que o senhor aborda no livro, é muito exemplar também do que os europeus eram (são) capazes de fazer com os pequenos países e povos que desafiam sua hegemonia, ao esmagá-lo sucessivamente através dos séculos, após o Haiti abrigar a primeira (e única) revolução de escravizados das Américas. O senhor apontaria a situação atual de absoluta miséria daquele país como resultante daquele início sangrento?
O Haiti, tema de um dos capítulos do segundo volume da minha trilogia sobre a escravidão, foi o único país da América a conquistar a independência numa guerra de negros escravizados contra senhores brancos. Foi também o primeiro a sofrer duro bloqueio econômico das potências ocidentais pela suprema “ousadia” de enfrentar e massacrar os brancos e se tornar uma nação autônoma sob o comando do general Jean-Jacques Dessalines, em 1804. O preço pago pelos revolucionários negros foi alto. Representante da elite branca do sul dos Estados Unidos, o presidente Thomas Jefferson recusou-se a reconhecer a independência do novo país. O Vaticano demorou 60 anos para fazê-lo. Cedendo à pressão da França e da Espanha, o congresso norte-americano também proibiu qualquer transação comercial com os haitianos. Boicotado igualmente na Europa, onde os mercados se fecharam completamente aos seus produtos antigamente valiosos, o Haiti foi obrigado a pagar uma indenização de 150 milhões de francos aos franceses, em 1825, em troca do reconhecimento de sua independência. Desde então, mergulhou na pobreza e numa história política marcada por instabilidade e golpes de estado. Hoje está entre os países mais pobres do mundo.
Tiradentes é e deve continuar sendo um símbolo de luta pela independência do país, apesar de também ter tido escravos? Ou o pessoal já pode derrubar suas estátuas? Como sopesar o contexto histórico de certas figuras com possíveis malfeitos que tenham cometido? Afinal, queremos santos ou figuras históricas – que afinal de contas eram seres humanos, com erros e acertos?
Eu não tenho nada contra erguer ou derrubar estátuas, desde que isso seja feito de forma organizada, com respeito pelas opiniões alheias e como resultado de discussões e reflexões mais aprofundadas sobre o significado dessas homenagens. Caso contrário, não poderemos condenar o Talibã e o Estado Islâmico quando, em nome de fundamentalismo religioso, implodirem estátuas de Buda no Afeganistão ou atacarem as ruínas de Palmira na Síria. Por isso, eu recomendo muito cuidado no tratamento desse assunto. Estátuas, museus, palácios e monumentos são parte do patrimônio histórico. O Brasil é um país que não zela nem respeita pelo seu patrimônio histórico, artístico e cultural. Também por isso acho que professores, educadores e formadores de opinião não deveriam estimular comportamentos de catarse coletiva que resultam na destruição indiscriminada de monumentos. Permitir que pessoas ataquem estátuas de forma impulsiva só porque alguém sugeriu isso em redes sociais é perigoso, irresponsável e irracional. O império brasileiro foi responsável pela manutenção do maior sistema escravista do hemisfério ocidental por quase meio século. Nem por isso acho que se deveria atacar ou demolir o Museu Imperial de Petrópolis. Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira, era dono de seis escravos. Nem por isso acho que devamos derrubar suas inúmeras estátuas hoje espalhadas por todo o Brasil. Podemos, sim, derrubar uma estátua, como a de Borba Gato, por exemplo, que, por sinal, é muito feia. Mas o ideal é que essa decisão viesse depois que tivéssemos a oportunidade de estudar e refletir sobre o seu significado e por que razões esse homem, caçador de índios e acusado de assassinato em Minas Gerais, foi promovido à condição de herói em um bairro de São Paulo. Derrubar estátuas não pode se confundir com vandalismo puro e simples, que muitas vezes resulta na derrubada ou na destruição de monumentos apenas como resultado de incitamento de determinados grupos em redes sociais.
A atenção que o senhor dá à importância das mulheres escravizadas também é pouco comum, salvo engano. É possível afirmar que, do jeito próprio delas, fizeram mais pela sobrevivência de sua cultura e religião do que os homens, mais vigiados e castigados?
O estudo do papel da mulher no Brasil escravista é um dos temas mais fascinantes na disciplina de história. As mulheres desempenharam um papel fundamental na construção da sociedade negra e mestiça do Brasil, embora isso nem sempre seja devidamente reconhecido nos livros didáticos. Mulheres negras foram protagonistas de inúmeras histórias de resiliência e superação que mudaram a paisagem escravista brasileira. Nessa condição agiram ativamente não apenas para conquistar a liberdade de seus maridos e filhos, mas também para transformar a sociedade em que viviam. Em geral, realizavam serviços domésticos, mas também trabalharam nas lavouras de cana-de-açúcar e nos engenhos, em jornadas tão extenuantes quanto a de seus companheiros homens. Ocuparam cargos importantes na direção de irmandades religiosas, fundaram terreiros de candomblé, se elegeram “rainhas” de comunidade negras, lideraram quilombos, administraram fazendas, participaram da mineração de ouro e diamante. No Nordeste, chegaram a labutar na criação de gado, como vaqueiras e curraleiras. Em um Brasil ermo e isolado, em que não existiam médicos e hospitais, foram benzedeiras e curandeiras. Algumas chegaram a ser donas de engenhos, fazendas, minas de ouro, vendas, tabernas e variados outros negócios. E muitas também, depois de libertas, foram donas de numeroso plantel de escravos. Um caso muito famoso, que também descrevo nesse livro, é o de Chica da Silva, que nasceu escrava na atual região de Diamantina, casou-se com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, se tornou uma grande dama da sociedade local e, ao final da vida, era dona de grande número de escravos.
Para amadurecer, uma nação precisa se encarar no espelho e se reconhecer em vários níveis. A absurda resistência em reconhecer o racismo e até mesmo o mal da escravidão nos atola em uma eterna adolescência resmungona e mimada, além do óbvio subdesenvolvimento econômico. Como mudar isso, Laurentino?
A melhor maneira de enfrentar a herança da escravidão, que inclui o racismo e a desigualdade social, é pela educação, leitura e, em particular, pelo estudo da história. Precisamos refletir sobre o que aconteceu no passado para entender como chegamos até aqui e também que decisões são necessárias adotar no futuro para corrigir os problemas acumulados ao longo dessa jornada. Os fatos que vemos acontecer atualmente reforçam em mim a convicção de que esta série de livros chegou em boa hora. A escravidão não é apenas assunto de museu e livros de história. É uma realidade presente e assustadora no Brasil de hoje. Alguns dos grandes abolicionistas do século XIX, como o pernambucano Joaquim Nabuco e o baiano André Rebouças, diziam que não bastava acabar com a escravidão. Era preciso também enfrentar o seu legado, dando terra, trabalho, educação e oportunidades aos ex-cativos e seus descendentes. Essa segunda abolição o Brasil jamais fez. Nossa população afrodescendente foi abandonada à própria sorte. O resultado está hoje nas estatísticas e indicadores sociais, onde a nossa população negra aparece como a parcela da sociedade com menos oportunidades e a que mais sofre com a violência e a desigualdade social crônicas no Brasil. Um segundo legado da escravidão é o preconceito. O racismo brasileiro está em toda parte, na paisagem, nas estatísticas e no comportamento das pessoas. Somos um dos países mais segregados do mundo, e isto sem necessidade de leis de segregação racial, como aquelas que existiram na África do Sul e nos Estados Unidos. O racismo produziu um sistema de castas na sociedade brasileira. Basta observar quem mora nas periferias insalubres, perigosas, dominadas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, sem qualquer assistência do Estado brasileiro. Na maioria, são pessoas afrodescendentes. Enquanto isso, os chamados “bairros nobres”, com boa qualidade de vida, segurança, serviços públicos e educação de qualidade, são habitados por pessoas descendentes de colonizadores europeus brancos. Estatisticamente, pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Com raras exceções, quanto mais negra a cor da pele, mais pobre é a pessoa. No meu entender, só a persistência de uma ideologia racista, que recusa oportunidades a todos os brasileiros, independentemente da cor a pele, explica essas diferenças. Ou seja, o verdadeiro racismo não se expressa apenas com palavras e atitudes ofensivas, que a lei proíbe, mas na recusa em dar oportunidades às pessoas negras ou afrodescendentes de se realizarem plenamente como seres humanos. Esse é o famoso racismo estrutural, enfronhado na nossa maneira de ser, agir e pensar. Há um genocídio de pessoas negras e jovens em andamento no Brasil, tanto quanto havia na época da escravidão. Uma segunda abolição significa enfrentar de forma corajosa e decisiva o problema da desigualdade social e da violência decorrente do racismo no Brasil.
Fonte: atardeonline - 11/08/2021 13h:10min.


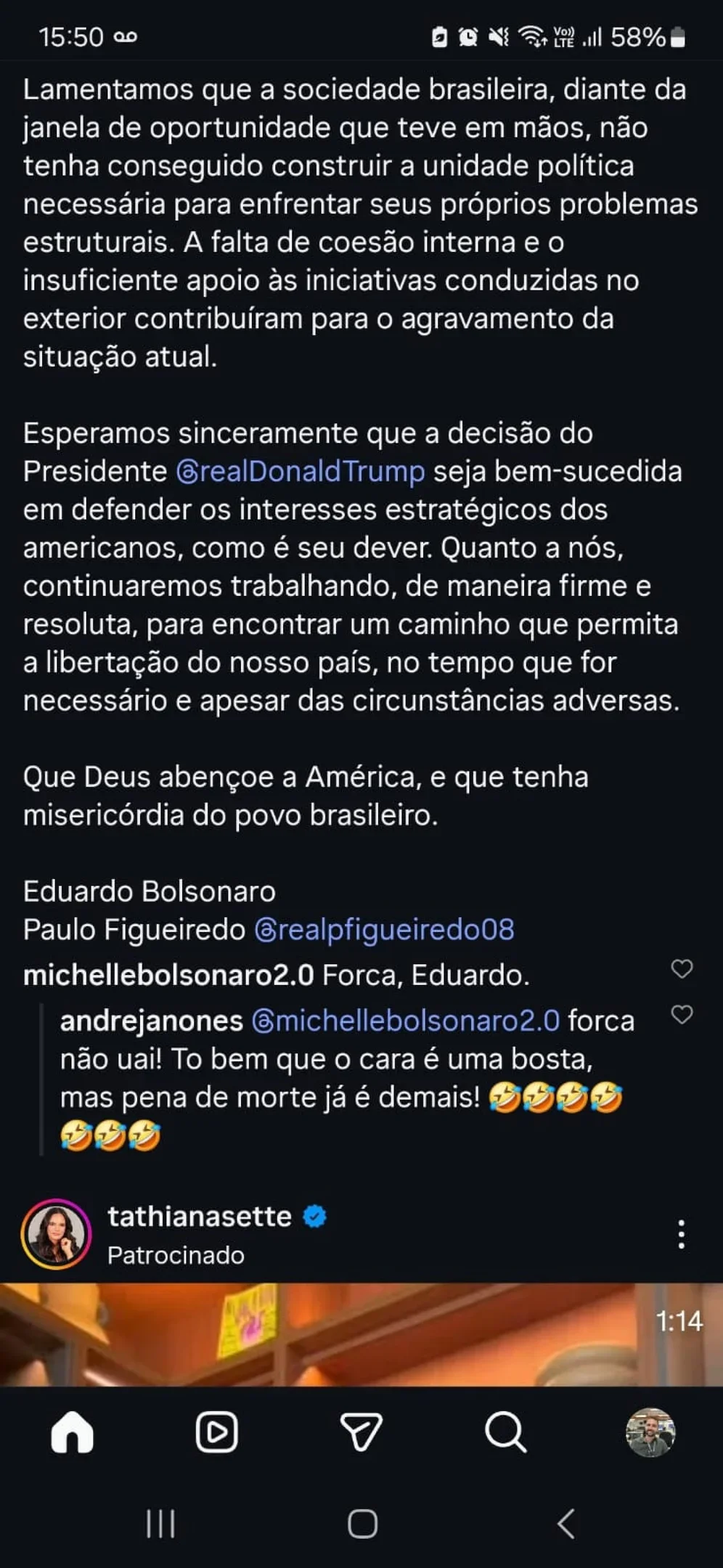







0 comentários:
Postar um comentário